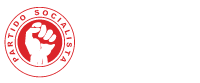Eutanásia. A decisão mais importante da nossa vida
Por Alexandre Quintanilha, Professor Jubilado e Deputado na Assembleia da República
Foi por vontade de outros que nascemos; não devemos exigir o mesmo da nossa morte
Há século e meio, o nosso tempo médio de vida andava pelos 40 anos e tudo sugere que possamos alcançar os 100 anos nas próximas décadas.
A evolução do conhecimento não se limitou a dar-nos mais anos de vida; deu-nos também, frequentemente a capacidade de os usufruir das mais variadas formas. Infelizmente, nem sempre estes anos adicionais de vida são acompanhados da qualidade desejada.
Falemos sobre esta questão. O que acontece quando alguém tem a consciência clara de que a perda de autonomia, autoestima e dignidade assim como o sofrimento físico e psicológico que sente, se irão acentuar nas semanas/meses/anos de vida de que possa vir ainda a usufruir?
Todos conhecemos, ou acompanhamos histórias dramáticas deste tipo de situações, e “usamos” essas histórias para justificarmos a nossa posição neste contexto. Se para uns, a resposta são os cuidados paliativos, para outros, o desejo é o de por fim rapidamente a esse sofrimento.
Mas o diálogo é difícil entre aqueles que consideram a vida humana como uma “dádiva divina” e os que, pelo contrário, olham para a vida humana como um processo de construção e consolidação individual. Uns invocam o conceito de “obstinação terapêutica”, enquanto que outros a noção de “prepotência da autonomia”.
Os que defendem os cuidados paliativos afirmam que em situações de grande fragilidade, é relativamente fácil convencer a pessoa de que não vale mesmo a pena fazer mais nada. Mas este argumento é verdadeiro também para quem deseja convencer a pessoa exatamente do contrário. E ninguém sugere que os cuidados paliativos devem ser descurados. Mesmo sabendo que ao entrarem em cuidados paliativos é difícil sair dos mesmos.
Atualmente, em Portugal, a decisão de terminar a nossa vida é solitária e frequentemente angustiante. Continua a ser punível na lei a assistência por parte de outrem, em particular por um profissional de saúde, à morte de alguém que o tenha solicitado repetidamente. E é esta, na minha opinião, a questão principal em discussão no debate sobre a morte assistida.
Como resposta ao medo da dor insuportável que faz com que alguém queira terminar rapidamente o seu sofrimento, afirmam que existem muitas formas de controlar a dor. Mas os efeitos secundários das elevadas doses necessárias destes fármacos, são por vezes tão intoleráveis como a dor que tentam controlar. E é perfeitamente concebível que para muitos (em que eu me incluo), não é só a dor física que é intolerável. É também a ideia de que a “quantidade de vida” adicional não compensa a “qualidade de vida” perdida. E suspeito que quanto mais rica tiver sido essa “qualidade de vida” de alguém, menos disposta estará a valorizar semanas ou meses de vida adicionais. Quando começamos a sentir que a nossa continuada existência deixou de ter qualquer relação com as experiências físicas, racionais ou emocionais que mais valorizamos, e que sentimos a nossa autoestima cada vez mais fragilizada, o fim parece perfeitamente razoável e até desejável para muitos de nós.
Outro conceito é o de que os profissionais de saúde devem tratar, curar se possível e acompanhar os doentes, nunca matar ou ajudar a morrer. O que faz todo o sentido e deve continuar a ser o seu principal objectivo. Mas só quem está muito mal informado é que não tem conhecimento de inúmeros casos de ajuda, por profissionais de saúde, a doentes perto do fim que querem acelerar a sua morte. Tudo feito às escondidas, à margem da lei, com enormes riscos de denúncia e com consequências profissionais gravíssimas. Não seria muito mais honesto evitar ao máximo, ou mesmo acabar com esta situação?
Admito que pensar desta forma pode parecer aberrante para alguns, mas felizmente já muitos profissionais de saúde pensam o mesmo.
Ainda outro argumento (o do slippery slope) é o de que os países onde se dará assistência médica aos que querem morrer, passarão a ser centros mundiais de morte assistida. As poucas experiências que existem neste domínio, tanto nos EUA como na Europa ilustram situações muito diversas. Onde é legal, o processo é longo, complexo e exigente – muito diferente do que se passa onde é criminalizado e por isso mesmo praticado às escondidas e sem qualquer controlo. E não deve surpreender ninguém que, ao deixar de ser ilegal, o que era escondido tenha passado a ser conhecido.
No passado recente, em Portugal, este mesmo argumento (o do slippery slope) foi (ab)usado nos debates da estratégia para a toxicodependência e da interrupção voluntária da gravidez. Não só as previsões não se concretizaram, como toda a evidência recente mostra exatamente o contrário.
Uma das soluções sugeridas e efetivamente aplicadas é a de não fazer nada para tentar alongar o tempo de vida que resta, quando a equipa médica decide que o paciente esta em fase terminal. Esta solução, em que se mantém o paciente com, ou sem a hidratação mínima necessária, e que pode durar dias ou semanas, é vista por muitos (onde eu me incluo) como cruel e insensível.
Por todas estas razões, e tantas outras que são sobejamente conhecidas, acho que a morte assistida deve ser legalizada e regulamentada, e que o processo seja o mais exigente e rigoroso possível para evitar ao máximo aquilo que hoje acontece muitas vezes sem qualquer supervisão.
Para mim, a qualidade e dignidade da minha vida e da minha autonomia, é muito mais importante que a “quantidade de vida” e suspeito que isso é verdade para muitos cidadãos.
Gostava de terminar com uma observação que considero, no mínimo irónica. A história da humanidade está cheia de exemplos de pessoas que escolheram e/ou aceitaram morrer para não abdicarem das suas convicções, da sua “honra”, da sua “dignidade” ou da sua “verdade”. Estas pessoas são normalmente admiradas e até por vezes vistas como mártires. O debate em que estamos empenhados parece ignorar a ideia de que a forma como cada um quer morrer é provavelmente a decisão mais importante da sua vida.
Artigo de Opinião publicado no jornal Expresso a 12 de fevereiro de 2020