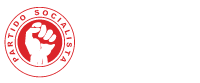O que valorizamos na vida
Por Alexandre Quintanilha, deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista
Numa democracia em que temos o direito de escolher como queremos viver e o dever de respeitar o direito dos outros, poder escolher a forma como queremos morrer parece inevitável.
A nossa esperança média de vida duplicou em pouco mais de um século. Mas estes anos adicionais de vida que o conhecimento nos proporcionou nem sempre são acompanhados com a qualidade prometida e desejada. Muitos são os que têm a consciência clara de que a perda de autonomia, autoestima e dignidade, assim como o sofrimento físico e psicológico que sentem, se irão acentuar no tempo de vida que ainda lhes resta. São múltiplas as narrativas heroicas ou dramáticas que “usamos” para justificarmos o que pensamos sobre este tema. Se, para uns, a resposta evidente são os cuidados paliativos, para outros, é a possibilidade de pôr fim rapidamente a esse sofrimento. Uns criticam a “obstinação terapêutica”, outros a “prepotência da autonomia”. Uns invocam dogmas, outros, questões económicas, e outros relativizam o sofrimento. O diálogo é muitas vezes entre surdos e ilustra aquilo que é expectável numa democracia, nomeadamente a priorização variável dos valores que nos regem.
Os que defendem os cuidados paliativos afirmam que, em situações de grande fragilidade, é fácil convencer a pessoa de que não vale mesmo a pena fazer mais nada. Mas o argumento é o mesmo se a quisermos convencer exatamente do contrário. Para muitos (em que eu me incluo), a “quantidade de vida” adicional nem sempre compensa a “qualidade de vida” perdida. E suspeito que quanto mais rica tiver sido essa qualidade, menos valor terão as semanas ou meses de vida adicionais.
Atualmente, em Portugal, continua a ser crime a assistência por parte de outrem, em particular por um profissional de saúde, à morte de alguém que a tenha solicitado repetidamente. E é esta a questão principal em discussão no debate atual sobre a morte assistida.
A ideia de que estes profissionais devem tratar e acompanhar os doentes, nunca matar, é universal. Mas devem ser poucos os que não suspeitam de inúmeros casos de ajuda, por profissionais de saúde, a doentes perto do fim, que querem acelerar a sua morte e que imploram pela compaixão do profissional de saúde. Sempre feito às escondidas, à margem da lei, com enormes riscos de denúncia e com consequências profissionais gravíssimas. Não seria muito mais honesto e racional acabar com esta situação?
Muitos destes profissionais pensam o mesmo e afirmam-no publicamente. E ninguém duvida da sua integridade profissional e ética.
O argumento da “rampa deslizante” de que Portugal se transforme num centro mundial de morte assistida não faz sentido. Este mesmo argumento foi alvo de (ab)uso nos debates da estratégia para a toxicodependência e da interrupção voluntária da gravidez. A evidência mostra exatamente o contrário.
A nossa Diretiva Antecipada de Vontade prevê, na fase terminal para acelerar a sua morte, que o paciente possa escolher ser mantido sem alimentação e hidratação artificial, o que pode durar dias. É por muitos considerada uma solução cruel e insensível. E é a razão principal para eu ainda não ter submetido este documento.
A História está cheia de exemplos de pessoas que escolheram morrer para não traírem a sua “honra”, a sua “dignidade” ou a sua “verdade”. São normalmente respeitados, até venerados. Numa democracia em que temos o direito de escolher como queremos viver e o dever de respeitar o direito dos outros, poder escolher a forma como queremos morrer parece inevitável. Não nascemos por vontade própria. Que a nossa vida e morte sejam escolhas pessoais.
A morte assistida deve ser legalizada e regulamentada. Que o processo seja o mais exigente e rigoroso possível para que a nossa confiança nas instituições seja reforçada.
Artigo de Opinião publicado no Público a 9 de junho de 2022