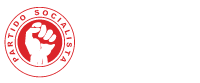Por Pedro Bacelar de Vasconcelos
Deputado Socialista, Professor de direito constitucional
Moonlight, de Barry Jenkins, ganhou o Oscar da Academia para o melhor filme de 2016. O seu herói chama-se Chiron mas é também conhecido, primeiro, pela alcunha de Little (como todas as crianças) e, mais tarde, por Black (como todos os membros da sua comunidade). É um jovem afro-americano que vive com a mãe, toxicodependente, num subúrbio desolado da Florida chamado Liberty City: um “mercado a céu aberto” para o tráfico e o consumo de drogas. Little sente-se desconfortável com a sua identidade masculina, o que o vai transformar em alvo de chacota e agressões múltiplas pelos colegas da escola. Contudo, não se trata propriamente de um filme sobre “bullying”, ou da denúncia do racismo ou do combate aos preconceitos em matéria de orientação sexual. Tão-pouco se ocupa do inferno da droga, da amoralidade dos traficantes ou do cinismo das leis.
Tudo isso está presente, é certo, mas aquilo que o filme nos propõe é apenas seguir a vida de Chiron, a sua infância, a sua adolescência e, por fim, o adulto em que se tornou. Não se apontam culpados nem se identificam os suspeitos do costume entre os membros da comunidade que habita esse subúrbio convenientemente esquecido, condenado à pobreza e à exclusão. Apenas o silêncio obstinado de Chiron nos interpela quando o calor da solidariedade humana inesperadamente irrompe das personagens mais improváveis. Como Juan, o passador de droga que o resgata e o ensina a nadar. A sua namorada, Teresa, que confronta o seu mutismo, lhe oferece um sumo e o vai continuar a proteger mesmo depois da sua precoce viuvez. Ou Kevin, o amigo e íntimo confidente que uma vez o espancou, amargurado, às ordens do bando juvenil. Ou a sua própria mãe, que visita no centro de recuperação onde foi internada, e a quem consegue perdoar.
A tragédia de Chiron é o retrato atual da América de Trump, É a tragédia deste Mundo sem fronteiras onde escasseia a esperança, pasto de desumanas ambições, herança dolorosa de uma longa história de abandono e indiferença.
Faz sentido recordar, a propósito do Dia Internacional da Mulher que ontem celebramos, a indeterminação de género que tanto perturbava o herói de Moonlight. Porque nenhuma declinação do outro se mostra tão complexa e fecunda como a diferença de género. Porque essa é a diferença fundadora da própria espécie humana.
O capítulo primeiro do Génesis conta-nos que ao sexto dia da semana primordial, Deus criou o “homem, macho e fêmea” e depois parou, ao sétimo dia, para descansar. Só mais tarde, no capítulo seguinte, após a descrição do paraíso e concluída a nomeação de todos os seres que o habitavam, surge por fim a narrativa da extração de uma costela de Adão, durante o sono, para com ela construir um ser semelhante com quem ele possa conviver e amenizar a sua existência solitária.
Entre o primeiro e o segundo capítulo do Génesis, insinuou-se uma visão do Mundo e da humanidade que ainda perdura. E acede-se deste modo ao código da sedução e do pecado, da solidariedade e do confronto, da procura do compromisso e do risco da submissão. O triunfo do patriarcado gerou toda a literacia do poder e da política, inventou instrumentos de domínio e acabou por suscitar inevitável resistência e inspirar as forças de emancipação.
As mulheres são também as mães dos homens, nossas irmãs, filhas ou amantes. Cúmplices e vítimas. É uma diferença transversal a todas as outras diferenças, mesmo quando o seu contorno se dilui ou confunde numa só identidade. Como em Chiron. Celebremos pois as mulheres e todas as diferenças que nos aproximam dos estranhos e rasgam novos horizontes.
Artigo publicado no Jornal de Notícias, março 2017